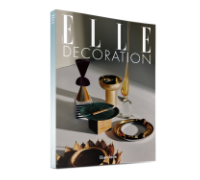Criativos indígenas: é urgente descolonizar a indústria da moda
Artistas, criativos, formadores de opinião e profissionais da moda falam sobre a importância da representatividade indígena.

Certa vez, uma colega de trabalho me disse que “essa coisa de ativismo na moda” era bobeira. “Day, pare de discutir esses assuntos, poste os looks do dia, você é tão criativa”, dizia ela. Respondi rindo que ela achava bobeira porque era branca, loira, com olhos azuis e morava na Barra da Tijuca, e continuei explicando que crescer sem referencial e abrir revistas na esperança de encontrar uma garota parecida não era bobeira. Afinal, nunca nos enxergamos nesses espaços, e precisamos lutar até hoje para agências contratarem modelos indígenas, falar sobre a importância de capas, castings para editoriais, campanhas, publicidades, desfiles etc. Quando perguntei a ela com quantos indígenas ela já havia trabalhado, ela me respondeu bastante surpresa que só havia trabalhado comigo, a única profissional indígena que havia conhecido. Depois desse papo, essa colega de trabalho mudou sua postura e decidiu contribuir para que minhas reflexões ganhassem mais alcance no nosso meio. Compartilhando e divulgando os conteúdos que eu criava, ela se tornou uma aliada.
A verdade é que se não nos posicionarmos nada mudará — e se algo tem mudado é exatamente por estarmos em constante movimentação. Há questões que parecem besteira para quem cresceu com diversos rostos semelhantes ocupando todos os espaços de privilégio, mas que causam dor e indignação para quem nunca se viu representado.
A nossa verdadeira história não foi contada nos livros e ainda sofremos com os efeitos eurocêntricos e influências de padrões externos. Precisamos refletir sobre produções autorais que permeiam representatividades e intensificam movimentos artísticos decoloniais. Nossa arte indígena carrega histórias e simbologias significativas, não é apenas estética. É uma narrativa cheia de memória que precisa ser contada por nós mesmos. Por muito tempo, nós não fomos os autores, mas, atualmente, essa é uma das nossas estratégias: lutar contra estereótipos que nos esmagam.
“Ainda há muito essa visão de que os indígenas são apenas aqueles representados pelos livros didáticos escolares, como parte de uma história muito antiga do país, mas que hoje possuem pouca relevância”, diz a atriz e cantora indígena
Elisama Ribeiro. “Me dói quando se referem a populações originárias em tons que se assemelham a de grupos animais vivendo na floresta. Não são tons respeitosos. Apesar de ter sido referida em tons elogiosos devido aos meus traços indígenas, me questiono o porquê de não ver traços do gênero incluídos nas representações da sociedade brasileira ou por que as únicas referências populares são em relação a um filme famoso com uma criança indígena, músicas infantis que citam “indiozinhos” ou a uma oca que viram representada na escola”.
São tantos os nossos ativismos: lutamos pela terra, demarcações, preservação da cultura, territórios, proteção à natureza, direito de existir, modos de vidas diversos, morada e outros elementos essenciais que fazem parte do bem viver. Em meio a essas lutas, também desejamos melhores condições de vida, autonomia e mais oportunidades nos espaços que estamos inseridos.
Sob um olhar coletivo, com trocas riquíssimas (que se intensificaram durante a quarentena), o ativismo na moda tem mudado a lógica de referenciais eurocêntricos presentes na indústria. Junto com outros criativos indígenas, subimos a hashtag
#descolonizeamoda, por onde propomos maior visibilidade da beleza originária no Brasil.
“É um sonho fazer parte de algo que construa representatividade. Torço para que mulheres indígenas se enxerguem em meus traços e se sintam bem, com autoestima elevada. Torço pela valorização de nossa existência, culturas e por uma moda real, que reflita o nosso país”, diz
Jéssica Ribeiro, modelo new face indígena pertencente ao povo Kamurape (Rondônia).

Modelo Noah Alef Arquivo pessoal
O modelo Noah Alef, indígena Pataxó (Bahia), também relata que se enxergar na moda parecia algo muito distante. “É triste perceber que não havia belezas originárias como a minha na indústria da moda. Isso me fez questionar se essa área realmente me incluiria como modelo profissional”, diz ele.
Jéssica ainda aponta para as mudanças necessárias e a valorização de nossos povos: “quero ter a oportunidade de trabalhar com os parentes indígenas maquiando, fotografando, desfilando e dirigindo. Espero, de verdade, que isso não esteja tão distante de acontecer”.

Modelo Jéssica Ribeiro Arquivo pessoal
O modelo Noah Alef, indígena Pataxó (Bahia), também relata que se enxergar na moda parecia algo muito distante. “É triste perceber que não havia belezas originárias como a minha na indústria da moda. Isso me fez questionar se essa área realmente me incluiria como modelo profissional”, diz ele.
Jéssica ainda aponta para as mudanças necessárias e a valorização de nossos povos: “quero ter a oportunidade de trabalhar com os parentes indígenas maquiando, fotografando, desfilando e dirigindo. Espero, de verdade, que isso não esteja tão distante de acontecer”.
O questionamento dela é necessário: quantos profissionais indígenas você conhece no mercado de moda? Estilistas, modelos, fotógrafos, stylists, designers gráficos, editores, assistentes, diretores, camareiras, maquiadores… dentre outros profissionais que compõem o campo criativo? Onde estão esses profissionais? Já parou para pensar que há pouco ou quase nenhum protagonismo indígena na indústria criativa? Isso abre uma grande lacuna para a falta de representatividade.
Representatividade importa: é preciso promover, celebrar e valorizar nossa gente, nossa cultura e beleza diversa
Refletindo com esses dois modelos tão jovens (Jéssica e Noah), recordei do tempo em que ser adolescente nos anos 1990 significou não me enxergar na moda, tampouco na arte — o que frustrou e comprometeu profundamente a autoestima da minha geração. Justamente por sentir na pele a falta de diversidades e inclusões raciais na moda, transformei emoções dolorosas em energia para lutar, criando narrativas decoloniais nos meus trabalhos autorais.
A adolescência de muitos indígenas foi pautada por esses padrões tóxicos que a moda criou. Nas capas de revistas, existiam garotas de diferentes tipos, menos o nosso, e isso intensificou o abismo nas referências que eu tinha sobre beleza, fazendo com que eu me sentisse feia e inadequada. Meus traços e características eram considerados estranhos. Hoje, compreendo que não havia nada de errado com minha aparência, mas sim com os veículos de moda que ditavam o que era aceitável e belo.
Para Wanessa Ribeiro, indígena, desenhista e ilustradora freelancer, não foi diferente. “Eu me sentia muito distante do que era considerado bonito na TV e nas revistas. Estava cercada de Xuxas, paquitas, Angélicas e Alicias Silvertones”, relembra ela. “Todas as bonecas que ganhei eram brancas de olhos claros e eu achava que, no mínimo, tinha que ter a pele e o cabelo mais claros, o nariz mais fino, o olho mais redondo, e não tinha nada no que eu pudesse me espelhar. Os anos 1990 foram bem cruéis em relação à propaganda infantil.”

Arte desenhada e digitalizada pelas artistas indígenas Wanessa Ribeiro e Juliana Gomes @dewaneios_ e @abyayalese
É estranho viver em um país indígena que, por muito tempo, não absorveu a estética e os corpos nativos de Pindorama. A beleza originária taxada de “exótica”, comprometeu a autoestima especialmente de nós mulheres.
Assim como Wanessa, cansada de buscar referenciais que não me representavam, comecei a descolonizar o meu olhar pessoal, encontrando beleza nos traços das minhas irmãs, primas e amigas de diversos povos. Atualmente, de forma coletiva, nos unimos a outros criadores e jovens indígenas para começar a pensar, questionar, escrever, criar, ilustrar, produzir e contar histórias de pertencimento étnico e orgulho indígena.
O designer indígena e estudante João Paulino aponta a coletividade como um caminho: “Como solução, sempre vejo a importância de adentrarmos de fato no futurismo indígena como nossos parentes canadenses, que têm a sua semana de moda (VIFW), colocando corpos indígenas em editoriais, comerciais e produtos (direta e indiretamente). Hoje, por exemplo, me preocupo bastante com a ideia de ficarmos apenas em vestuários para o gringo ver”.
A estereotipagem também é uma preocupação do maquiador indígena Louie Vieira. “O que mais me incomoda é o uso de pessoas racializadas como token. “Usam indígenas apenas para fazer o papel do ‘índio’, papel esse que é construído muitas vezes de forma racista. Como maquiador, tentei não focar nisso no começo, mas se tornou impossível. Não é normal a enorme dificuldade de se encontrar bases que funcionem para o meu tom e subtom, que é também o tom de outros indígenas. Não é normal querer afinar ou aumentar traços porque isso deixa ‘mais harmônico’. Parece que a moda é construída para ser exclusiva, e isso anda de mãos dadas com o elitismo, que, por fim, anda de mãos dadas com a branquitude”.
Devemos enaltecer belezas originárias daqui, mas ainda exportamos padrões pouco representativos. Respeitar os diversos modos culturais e abrir novos espaços é fundamental.
A moda eurocêntrica não intimida identidades originárias
A moda reforçou por décadas um único padrão de beleza, mas não só ela. Muitas vezes, não há espaço para as características e modos de vida diversos no audiovisual, na literatura, no meio acadêmico, na música, medicina e diversos outros lugares que desejamos ocupar.
O ator Igor Pedroso relata que, para ele, sempre foi muito clara a exclusão de pessoas indígenas por diretores do mercado de entretenimento: “A gente sabe que o racismo estrutural sobre nossos corpos é muito forte. Algo que é projetado há séculos e que permanece como forma de não dar empoderamento aos pensamentos, atitudes e oportunidades no mercado de trabalho. É algo enraizado e estigmatizado. E isso entra num plano capitalista muito profundo e obscuro. Mas como acabar com isso? Eu acho, de verdade, que coletivos e movimentos têm o poder de mudar e pautar essas urgências. Especificamente sobre construirmos de maneira coletiva algo para além da grande indústria.”
O caminho por aqui é longo e árduo, mas não impossível. Podemos perceber pelo tamanho dessa nação que há milhares de outras pessoas que precisam e querem fazer parte desse propósito que estamos inseridos.
A moda sustentável está conectada à nossa cultura ancestral
Para além de tudo isso, há as questões ambientais. As nossas gentes se preocupam profundamente com isso, o que abre margem para falarmos sobre moda sustentável, que está intensamente conectada à nossa cultura ancestral.
Patrícia Kamayurá (Xingu) criou em 2017 sua marca autoral, a Kanutsi Arte e Moda Indígena, e decidiu registrar sua ancestralidade nas peças pintadas à mão: “Enxergo uma moda brasileira cheia de branquitude, que ignora a nossa nação indígena e toda nossa história. Querem nos apagar a todo custo. Precisamos retratar a riqueza que existe em nossa essência.”
Dessa forma, Patrícia também honra e homenageia a memória de sua avó por meio de suas criações. Ela desenvolve roupas, ecobags, máscaras e utiliza o algodão cru e o linho como base. Em suas peças, coloca a força do urucum e jenipapo, que, para ela, têm simbologias nos rituais ao fazer os grafismos de seu povo.
Já a médica e cardiologista Myrian Veloso, do povo Guarani Mbya (Paraná), adora moda, mas nunca se sentiu representada pelas marcas que consumia. “Representatividade é saber que há mais como você e que eles estão em todos os lugares, onde deveriam ou querem estar, ainda que tenham convencido uma sociedade inteira de que moda, beleza, ciência e cultura é limitada para poucos tipos de pessoas.”
A modelo, produtora e co-fundadora do coletivo “Indígenas na Moda BR” Isiz fala sobre o assunto: “o mercado se mantém assim e quem não entra nessa lógica fica em ‘desvantagem’. É muito complicado pra nós estarmos nessa indústria com todos esses malefícios, mas com nossa ausência é que nada vai mudar mesmo”. Para ela, é preciso, primeiro, indagar e fazer um trabalho de fortalecimento de base e, a partir disso, articular nossas redes como comunicadores. “Precisamos abrir o olhar do consumidor para termos um movimento em massa disso tudo, as redes são a melhor opção. Uma coisa que eu tenho em mente é que podemos não mudar as coisas de imediato, mas somos parte dessa mudança”.
Mas esse empoderamento não é parte da mudança. Na verdade, é a própria mudança que já começou. Crendo nisso, percebemos o boom do movimento indígena, uma realidade que começa a tomar novos rumos. Como diz André Carvalhal, “a consciência é um caminho sem volta”.
Somos todos de verdade
Há pessoas que pensam que só existem indígenas “de verdade” na Amazônia, especificamente no Amazonas. Mas, acreditem, somos todos de verdade. Independentemente de nossas escolhas. Somos mais de 305 povos, em diferentes lugares do Brasil, e não somos iguais. Os modos de vidas e culturas também não, mas somos semelhantes em alguns aspectos, especialmente na cosmovisão.
O designer indígena e estudante João Paulino diz que “infelizmente, o que muitas vezes vejo na indústria é a estereotipagem dos nossos corpos. Principalmente quando se fala em pinturas e adornos, pois, pelo menos no Alto Rio Negro, pinturas e cocas são utilizados somente em cerimônias importantes. Muitas das vezes, percebo até como banalização na moda. Diante disso, vale ressaltar que no dia a dia, não estamos com nossas indumentárias tradicionais, pois, na prática, isso não facilita as atividades diárias. E isso não quer dizer que possamos nos inspirar e fazer novos recortes para novas maquiagens e vestuários focando literalmente no tradicional.”

Biojóia com grafismo Arte de Patrícia Kamayurá
Não há nada que nós indígenas não possamos fazer. Inclusive, maquiagens e outras vertentes de manifestações artísticas. Adquirimos mais conhecimentos e novas ferramentas para criar inovação, que se mantém em conexão com nossas tradições de forma contemporânea.
O maquiador e modelo amazônida, Bruno Ferreira, reforça isso: “Acredito que só role representação em temporadas por personas estereotipadas, tipo ‘precisamos de alguém pintado de índio para representar a Amazônia e, muitas vezes, isso nem acontece, são mínimas as vezes que criam algo que foque em algo não tradicional ou cheio de estereótipos”.
A ideia do indígena puro, amazônida, cabelos lisos e pele morena ainda é a principal referência do que é ser indígena no Brasil, mas há indígenas de diferentes fenótipos: indígenas brancos, pretos, de cabelo enrolado, crespo ou loiro. Ser não é sobre parecer já que a estética é apenas um dos muitos fatores sobre pertencimento e identidade étnica. Há questões que podem não ser aparentes.
Na quebra de preconceitos e paradigmas, criei a NALIMO, marca autoral, urbana e minimalista, que reflete minhas escolhas e vivências pessoais enquanto mulher indígena na cidade. Me recordo muito bem que, ao lançar a etiqueta, algumas pessoas questionaram onde estavam os grafismos. Como que, por ser indígena, eu obrigatoriamente só poderia criar uma marca com grafismos. Colocarem sobre nossas vidas um peso que não aceitamos mais é um dos grandes problemas. Somos livres para criarmos um mundo criativo com autenticidade e autonomia.
A palavra moda significa costume, provém do latim modus. Moda é comportamento, fenômeno sociocultural. Expressa valores e costumes da sociedade. Por muito tempo, o padrão normativo da moda excluía diferentes culturas, corpos e modos de vidas diversos. O mundo evoluiu em muitos aspectos. E o mercado de moda tem muito a melhorar, cooperando, assim, com esse novo tempo.

Editorial autoral assinado por Dayana Molina e modelo Zahy Guajajara. Foto: Mateus Santanna
Dicas para descolonizar a moda de forma efetiva e real:
1) Permita que novos talentos protagonizem esses lugares. Não excluam, apaguem e invisibilizem nossos corpos. Quando fazem isso, perpetuam o Brasil colonial.
2) Questionem a ausência de profissionais indígenas nos espaços que atuam
3) Naturalize nossos corpos ocupando esses espaços criativos.
Siga #descolonizeamoda, @indigenasmodabre fortaleça esse movimento também.
Dayana Molina, no Instagram @molina.ela, é ativista indígena e stylist.
Para ler conteúdos exclusivos e multimídia, assine a ELLE View, nossa revista digital mensal para assinantes